“ Define-se caos menos pela sua desordem do que pela velocidade infinita pela qual se dissipa toda forma que nele se esboça. É um vazio que não é uma nada, mas um virtual, contendo todas as partículas possíveis e suscitando todas as formas possíveis que surgem para desaparecer logo em seguida, sem consistência nem referência, sem consequência. É uma velocidade infinita de nascimento e esvanecimento” (Gilles Deleuze e Félix Guattari – O que é a filosofia ? ).
No ano em que Deleuze publicou com Guattari “O que é a filosofia?” (1992), as discussões sobre a dimensão espaço-temporal já tinham sofrido um significativo acréscimo desde que Kant estabelecera o espaço e o tempo como formas a priori. As novas descrições de espaço e de tempo refletem uma olhar sobre a natureza que foi se formando na modernidade, fundamentalmente, a partir das idéias de Galileu, no século XVI, e ganha um impulso definitivo com a formulação das “leis da natureza” associadas ao trabalho de Newton no século XVII. Este modelo de descrição da realidade tinha como fundamento a crença na capacidade de objetivação dos fatos como elemento fundamental para se chegar às certezas em relação a realidade das coisas apreendidas pelos sentidos deste animal chamado humano. Esta visão da realidade apela para o tempo e para o espaço como pontos de localização simples das coisas, onde cada coisa estaria em uma definida e finita região do espaço e por completo numa definida e finita duração do tempo. Assim as “leis da física newtoniana” foram para o pensamento moderno o ponto de partida para o triunfo de uma forma de pensar aceita como a expressão de um conhecimento ideal, objetivo e completo, ao longo dos séculos que se seguiram à revolução científica que ocorreu no ocidente, até que no final do século XIX a visão de espaço e tempo que pressupunha posição simples começa a ceder o lugar para um olhar que considerava a realidade das coisas como um complexo de relações interdependentes. “A invenção estimulou o pensamento, o pensamento provocou a especulação física; manuscritos gregos revelaram aquilo que os antigos haviam descoberto. Por último, embora no ano de 1500 a Europa não conhecesse nada de Arquimedes, que morrera em 212 a.C, logo em seguida, em 1700, Newton escreveria os Principia, e o mundo começaria a Era moderna” ( A. N Whitehead – A ciência e o mundo moderno).
Haveria de se constituir, aqui, um plano por onde pudéssemos seguir as tramas de um pensamento que chegou ao século XXI através de um emaranhado de linhas em constantes atualizações do olhar do animal racional chamado homem, encravado no mundo ao lado da patente e imediata presença das coisas. Alternando giros, rupturas, saltos, gritos e silêncios, as matizes do pensamento que chegou aos nosso dias são como colorantes nas pontas de um pincel que seguiu movendo-se velozmente sobre uma superfície acidentada cuja geometria define-se mais pelas potências das cores que pelas funções que relacionam as suas tonalidades. Tais representações pictóricas descrevem as variações que aos poucos vão assumindo detalhes e contornos num cromatismo que definirá, por si só, as nuances de cada cor, sem que se apele a qualquer outro suporte. As diversas linguagem utilizadas na sobremodernidade para descrever o mundo, as coisas, a frequência de suas aparições e as intensidades de sua ressonâncias, hão de ser capazes de expressar os “tons” dos velozes e transitórios acontecimentos que querem descrever, sob o risco de se tornar estéreis na tarefa de apresentar uma realidade cada vez mais dinâmica, flutuante e instável.
A partir do século XIX, as formas de expressão do pensamento moderno encontram a necessidade de alcançar um ponto onde não mais erijam figuras de suporte para os limites precisos das possibilidades que se atualizam nas coisas, mantendo a potência original que as anima como uma capacidade de escapar infinitamente. As diversas manifestações da civilização ocidental nesta época, quer se referissem às diversas disciplinas científicas, à arte ou à filosofia, engendravam e refletiam uma racionalidade que não mais associava verdade e certeza, probabilidade e ignorância, mas forçava os limites de validade dos conceitos consolidados, através de formulações não mais assentadas em certezas, mas construídas sobre possibilidades. A pintura abstrata do fim do século XIX e início do século XX serve como um ótimo exemplo de como se assumir o encargo de forçar os limites das possibilidades, quando abre mão da figura como suporte para as cores. A tensão entre as cores que se estabelece na pintura abstrata deve ser capaz de dar consistência aos conteúdos criados num plano onde a composição faça saltar, a todo instante, as matéria expressivas que a compõe. O desafio passa ser a capacidade de roubar as cores em suas combinações efêmeras para tornar visíveis as forças invisíveis. Desta forma, seguir os movimentos de ruptura e desconstrução que se deram no seio da pintura moderna ajuda-nos a entender estes mesmos movimentos quando relacionados a outros tipos de linguagens, independente da descrição da realidade a que se propunham. Basta que consigamos alcançar os planos por onde cada uma delas traçam as linhas com as quais comporão suas tramas.
Desembocamos, assim, na constatação de que os elementos constitutivos das diversas linguagens que chegaram ao século XX, carregavam uma característica comum: um esforço de libertar a virtualidade das possibilidades que se atualizam na individuação de cada coisa que passa compor a realidade do mundo apreendido pelos sentidos, em sua potência original, que guarda uma velocidade infinita quando pensada na dimensão de “ainda não”, meio instável de onde saltam para a atualidade dos estados das coisas do “já”; as unidade dos acontecimentos.
A linguagem dos acontecimentos se diferencia da linguagem do conhecimento positivo. Ela está, justamente, no “limite do conhecimento positivo”. Por trabalhar no limite, os discursos devem atingir o espaço do acontecimento que reside justamente entre os limites do “já” e do “ainda não”, aproximando-se em sua realidade intrínseca na medida que seus planos se cruzam e forçam os limites de suas linguagens. Forçar os limites da linguagem até que eles sejam capazes de calar os códigos significantes da língua, situa o espaço do acontecimento no turbilhão de possibilidades que saltam para os planos onde se atualizam, recortados do caos dos infinitos arranjos. Isso porque as linguagens, na sua gênese histórica, funcionam como notações que definem por semelhança e fixam o espaço do significado através da característica remissiva dos signos. Fixar os limites do campo de possibilidades do significante é o elemento fundamental de toda língua. Assim, forçar os limites da linguagem significaria criar um novo espaço onde os significantes não sejam amordaçados pelos códigos que os regulam, expandindo o espectro de significância até que as partículas da língua estabeleçam ressonâncias com o turbilhão de possibilidades do caos criativo.
Com a concepção de caos como o conjunto de todas as possibilidades que se afirmam numa dimensão virtual cuja realidade se diferencia das coisas ou estados de coisas já atualizados em sua individuação, surge o plano através do qual podemos constituir o pensamento sobremoderno. Este plano não deve ser entendido numa dimensão espaço-temporal onde os corpos se movimentam e se relacionam em função das diversas variáveis ligadas a estes movimentos, mas sim numa dimensão intensiva pré-individual. Individual aqui, relaciona-se como o processo de atualização dos nós de tendências que compõe as possibilidades que ao “saltarem” para atualidade constituem as coisas individuadas, das partículas elementares da matéria às complexas organizações sociais, que antes de existirem como “indivíduos” existem como possibilidades no conjunto de possíveis. Assim, se a linguagem opera no plano da similitude da identidade de cada coisa, forçar os seus limites significa constituir um plano onde a intensidade das potências pré-individuais possa imprimir seus significados sem que se fixe ou determine qualquer cadeia de semelhança que ligue duas estruturas individuadas ou trace retas que irão integrar os limites de suas variáveis.
Esse plano limite defini-se menos pela função que transforma o diferencial das possibilidades em variáveis e mais pela potência que segue o valor de cada variável não relacionada e não integrável, que escapa e se esvanece logo após se estabelecer. Essa potência nos leva até o interior da dimensão virtual do acontecimento, situado antes mesmo que as coisas ou estados de coisas se atualizem nas coordenadas da função. Essa indeterminação virtual não pode ser alcançada a não ser que se consiga detectar a consistência da intervenção que qualifica o acontecimento e o faz entrar na dimensão atual dos conteúdos e das coisas; potência que prevalece e faz prevalecer o acontecimento no caótico turbilhão de possibilidades, não situado entre dois pontos ou instantes mas como um devir entre-tempos, onde “nada dura” mas “tudo escapa”.
Em que dimensão do espaço e do tempo e a que velocidade?
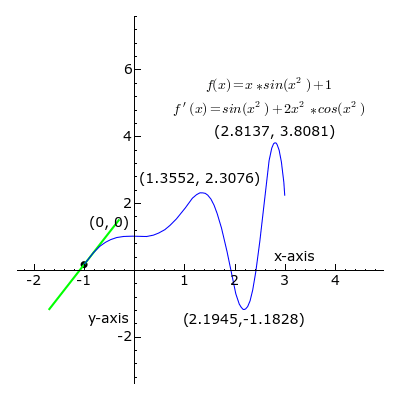
Consideremos, neste ponto, as concepções de espaço e tempo das ciências dos séculos XVII, XVIII, XIX e início do XX. Elas se estabelecem, a princípio, segundo uma mecânica que pensava o movimento a partir de leis deterministas que desempenham papéis similares, onde as equações do movimento descrevem a evolução de um estado inicial a qualquer um de seus estados em outros instantes, quer seja esse movimento descrito em termos dos intervalos de trajetórias individuais, no caso da mecânica clássica, ou de amplitudes de probabilidades, no caso da mecânica quântica. Embora divirjam quanto à forma como cada equação descreve o deslocamento do móvel entre dois instantes, ambas as mecânicas (clássica e quântica) convergem quanto à simetria que atribuem entre o tempo presente, passado e futuro, de forma que são capazes de garantir a previsibilidade do futuro e a possibilidade de retrodizer o passado, desde que dadas condições iniciais apropriadas. A diferença fundamental seria: enquanto a mecânica clássica trabalha como um extensão espaço-temporal que pressupõe um posição simples e com as propriedades dos objetos materiais como realidade objetiva, a mecânica quântica adentra no universo das partículas elementares da matéria cuja posição não implica outra coisa senão relações estatísticas de probabilidades de ocorrência e a realidade das coisas não passa de uma tendência.
As leis da natureza passam então a ser formuladas não mais determinando as propriedades dos objetos materiais, mas a possibilidade de sua ocorrência, a probabilidade de que qualquer coisa ocorra. A possibilidade ou a “tendência” para que um evento ou coisa aconteça passa, então, a apresentar uma espécie de realidade. “Trata-se de um problema muito difícil de abordar. Quando consideramos uma onda eletromagnética ou um raio luminoso que incide sobre uma placa fotográfica, o raio luminoso é a condição de que, conforme uma certa probabilidade, suceda algo que responde à questão: Forma-se um grão de prata nesta placa? O ato é o aparecimento de um grão de prata e a onda luminosa é a potentia. “Ato”e potentia apresentam-se assim intimamente ligados e, quando procuramos a incidência da onda luminosa no ato, ou seja, o grão de prata, este surge como um a priori. Na física clássica, onde os fenômenos são objetivos, podemos empregar a linguagem tradicional da física, isto é, a linguagem quotidiana. Na física moderna, contudo, as estruturas matemáticas com que nos deparamos indicam a probabilidade de um fenômeno e não o próprio fenômeno”(W. Heisenberg – Problemas da Física Moderna).
Voltemos a Deleuze e sua definição de caos e tentemos descobrir em que sentido as mudanças processadas na ciência ressoam na sua filosofia e vice-versa.
O século XIX representa um limiar em relação ao olhar que é dirigido ao mundo dos objetos pelo sujeito do conhecimento. As construções objetivas que a modernidade cultivou ao longo dos três séculos precedentes não resistiram aos olhares que as transpassavam. Olhares carregados de incertezas, cuja intenção resume o desejo de atingir a natureza de um mundo que não se abre facilmente à visão mas que escapa às tentativas de recorte que estabeleçam limites harmônicos e capturem as regularidades de sua pulsação, projetando-as em posições simples no espaço e em pontos determinados do tempo. O mundo abre-se, então, como a simultaneidade de vários estados que se relacionam a partir da probabilidade de suas localizações, cuja extensão não se percebe facilmente. Daí a importância assumida pela aliança entre um pensamento que considere a realidade como uma mera possibilidade e uma técnica que procure localizá-la por um processo de descrição desta já não tão clara realidade das coisas e dos estados das coisas, avançando às dimensões dos infinitamente pequenos campos de atividades físicas. Os astrônomos do século XVI mostraram como o universo era grande enquanto os químicos e biólogos do século XIX nos ensinaram o quanto ele é pequeno.
Quando Deleuze define o caos como um conjunto de possíveis ou de essências individuais e infinitesimais que tendem à existência, ele revela o escopo do pensamento que passa a se esforçar em descrever a partir de um crivo que intervenha neste caos como uma membrana elástica e sem forma que pode ser tida na mesma dimensão de um campo eletromagnético, onde as menores partículas da matéria movimentam-se em uma velocidade vertiginosa. Haver-se-ia então de substituir a descrição que se apóia em uma dimensão espaço-temporal do ponto e da duração por uma visão que se abra ao intervalo-vertigem da velocidade das ondas eletromagnéticas e a ausência infinitesimal de duração. Este aumento de velocidade altera a visão à medida que o diâmetro aparente dos objetos muda quando deles nos aproximamos rapidamente. Como num salto em queda livre, onde, à medida que nos aproximamos velozmente do solo tem-se a a sensação de vê-lo afastar-se bruscamente como se fendesse. A abertura das fendas que levarão o pensamento para além do crivo do campo eletromagnético depende, sobretudo, de uma aceleração não limitada pela força da gravidade, que torna-se possível a partir da velocidade do novo meio eletro-óptico da sobremodernidade. Este meio não mais se inscreve nas dimensões espaço-temporais de passado, presente e futuro. Ele inaugura a dimensão do presente intensivo, onde a velocidade de escape das ondas eletromagnéticas lida com a instantaneidade da fuga infinita de todas as coisas.
Sobre a terra, a velocidade de escape é de 11,2 km por segundo. Abaixo desta aceleração todas as velocidades estão condicionadas pela atração terrestre, inclusive a visão que se tem das coisas. Mover-se acima desta velocidade faz com que o olhar se afaste infinitamente do centro do campo gravitacional e se lance em uma dimensão limite que liberta a visão de todos seus códigos de suporte, permitindo que se alcance a virtual potência das coisas antes que elas se atualizem no olhar. Trafegar acima da velocidade de escape exige uma nova linguagem que acompanhe a visão e permita descrever as imagens que atravessam a retina, onde a luz perde a relevância na tarefa de refletir os corpos opacos, pois as retinas já perderam a função de anteparo e são transpassadas pelas imagens. Já não é possível descrever, detalhar ou discernir os limites, pois a polarização de um foco difuso elimina as fronteiras espaciais, reduzindo o brilho das imagens ao ponto de não poderem ser distinguidas em suas dimensões. A consistência vem de uma luminosidade que distinga as nuances sem que esta se apresente em nenhum instante, pois a velocidade das partículas colorantes não permite que se fixe qualquer linha distintiva. As cores se espalham e escapam indeterminadamente de todos os espectros que as atualizam nos pontos pictóricos, assumindo uma potência que as encerram num balé infinito de um cromatismo fractal, onde a indiscernibilidade é o tema e a transitoriedade assume a coreografia do movimento.









Nenhum comentário:
Postar um comentário